Ele que o Abismo Viu. Epopeia de Gilgámesh por Jacyntho Lins Brandão
Reproduzimos aqui, a entrevista de Jacyntho Lins Brandão, sobre seu livro “Ele que o Abismo Viu. Epopeia de Gilgámesh” do site www.suplementopernambuco.com.br
A Epopeia de Gilgámesh é o poema épico mais antigo conhecido da história e suas versões remontam ao terceiro milênio antes de Cristo, na cultura oriental antiga; dentre elas, a mais completa e clássica é do séc. XIII-XII a.C, escrita em acádio e atribuída a Sin-léqi-unnínni: Ele que o abismo viu. Esse texto pertence a uma tradição de escrita-performance-reescrita, que atravessou mais de mil anos, recontando feitos de Gilgámesh. Até pouco tempo as variantes disponíveis, em línguas diversas, estavam bastante incompletas; porém agora a versão de Sin-léqi-unnínni está quase integral, e foi a partir dela que Jacyntho Lins Brandão fez a primeira tradução completa direto do original para o português, com um aparato impressionante de notas, que apresentam ao leitor não só o universo da obra, mas o mundo oriental antigo que produziu inúmeras peças que sobrevivem e também merecem traduções comentadas.
Jacyntho Lins Brandão é um dos helenistas mais respeitados no Brasil, professor de grego na UFMG desde 1977, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC), autor de livros fundamentais, como Luciano de Samósata: biografia literária (2015), Em nome da (in)diferença (2014), Antiga musa (2005), Helleniká: introdução ao grego antigo (2005, com Maria Olívia Q. Saraiva e Celina F. Lage), dentre outros. A tradução de Ele que o abismo viu saiu em 2017 pela editora Autêntica. Além da sorte de revisar o texto e as notas, tive o prazer de fazer esta entrevista por e-mail.
Como foi sua aproximação com a língua acádia e com a Epopeia de Gilgámesh?
Eu tomei contato mais de perto com a produção mesopotâmica, especificamente a escrita em acádio, em 1985, quando esteve na USP o assiriólogo francês Jean Bottéro, convidado por Haiganuch Sarian, professora de arqueologia grega, para dar um curso breve, de um mês (era a época em que eu estava fazendo o doutorado). Ele apresentou, com base nas traduções que vinha fazendo para o francês, o chamado “poema da criação” (Enuma elish), uma cosmogonia, e o “poema do super-sábio” (Atrahasis), uma antropogonia. As traduções foram publicadas depois, junto com outros textos, no volume Quand les dieux faisaient l’homme. A partir disso comecei a ler outras obras, sempre em tradução, incluindo a chamada Epopeia de Gilgámesh. Quem entra em contato com este poema logo percebe que se trata de algo extraordinário, pelo que tem, antes de tudo, de beleza, mas igualmente por tratar de temas fundamentais da condição humana: sexualidade, mortalidade, urbanidade, heroísmo, amizade e amor.
A produção suméria e acádia sobre Gilgámesh tem várias etapas: os primeiros poemas, em sumério, devem ser de por volta do século 22 a.C., ou seja, da época neossuméria (cinco poemas isolados sobre várias passagens da saga do herói), sendo do século 20 a.C., no período babilônico antigo, a primeira versão do que se poderia considerar a Epopeia de Gilgámesh (cujo nome é Shutur eli sharri, “Proeminente entre os reis” – na tradição semítica, o título das obras é constituído por suas primeiras palavras). Mas a versão clássica do poema, que tem o título de Sha naqba imuru (“Ele que o abismo viu”), data do século 13/12 a. C., sendo que dela conhecemos o nome do autor, o sábio Sin-léqi-unnínni. Essa é a versão que podemos chamar de “clássica”, porque se tornou, até o fim da Antiguidade, a vulgata encontrada em diversos locais. Ela utiliza a tradição anterior, mas expande o poema, dando-lhe uma dimensão sapiencial: Gilgámesh, de simples herói, aparece nela também como um sábio.
Muito bem, em 2003, pela Editora da Universidade de Oxford, saiu uma nova edição crítica, em acádio, do poema de Sin-léqi-unnínni, edição feita pelo assiriólogo inglês Andrew George. A anterior era da década de 1930 e contava com um número menor de manuscritos, o texto era mais fragmentado, os editores e tradutores completando o que faltava com partes da versão paleobabilônica (“Proeminente entre os reis”) e mesmo da tradução para o hitita. Na edição de 2003, Andrew George trabalhou com um número muito maior de manuscritos, ou seja, todos conhecidos até então.
Foi essa a versão do poema que eu quis traduzir, a que se chama Ele que o abismo viu, na qual não incorporei partes de outras versões, porque isso implicaria em produzir uma espécie de “frankenstein” que não existiu em época nenhuma. São duas balizas importantes, portanto, que orientam meu trabalho: ele tem em vista o poema de Sin-léqi-unnínni, na edição crítica de Andrew George. Enquanto eu estava fazendo o trabalho, houve dois acontecimentos importantes: em 2007, Daniel Arnaud, um assiriólogo francês, publicou novas tabuinhas, escavadas por ele em Ugarit (no litoral da Síria), contendo partes do poema, mas principalmente seu início, o que fez com que se pudessem completar lacunas na edição de George, ou seja, hoje temos a sorte de conhecer o proêmio de Ele que o abismo viu de modo completo; e em 2014 houve outro acontecimento, quando se publicaram partes da tabuinha 5, principalmente seu início, de que tínhamos um conhecimento muito fragmentado (essa tabuinha estava num lote de antiguidades que, depois a Guerra do Iraque, foi oferecido ao Museu de Suleimaniyah, no mesmo Iraque, pedindo o vendedor o preço de 700 dólares!). Nos dois casos, voltei – e voltei alegre, é claro – a partes da tradução que já estavam prontas, para completá-la. Isso mostra bem como nosso conhecimento do texto se amplia – o próprio Andrew George tendo expressado, num de seus artigos, a esperança de que um dia possamos tê-lo completo (o cálculo é que nos falta ainda em torno de um terço dos versos).
Foram então todas essas novidades – a nova edição de 2003 e as descobertas publicadas em 2007 e 2014 – que me motivaram a fazer a tradução. Isso envolveu, em primeiro lugar, estudar o acádio (eu sou professor de grego antigo). Para isso, ajudou eu ter estudado hebraico nos anos 1980. Como o acádio é também uma língua semítica, não me ofereceu dificuldades instransponíveis.
Passei por algo similar com a tradução de Safo, para a qual incorporei os fragmentos recentes das últimas décadas, que ainda não tinham entrado em nenhuma edição crítica completa. Parece-me impressionante essa abertura material que a literatura antiga tem, com a possibilidade de publicação de poemas, trechos, obras novas, mesmo com milênios de atraso. O que você acha disso?
Isso é consequência de que o que conservamos da literatura antiga é só uma espécie de arca de Noé, ou seja, uma quantidade pequena de uma produção muito vasta. Assim, há sempre espaço para descobertas, desde as volumosas, como os papiros de Oxirinco, os manuscritos do Mar Morto, os papiros de Herculano, até as mais modestas, mais nem por isso menos importantes, como o papiro de Derveni e os poucos versos de Safo conservados em cartonagem de múmia, descobertos em 2005. Todos esses exemplos são de textos produzidos na própria Antiguidade e conservados por algum acaso, especialmente em lugares em que não chove, como no caso da Palestina e do Egito. Mas há também as descobertas de cópias mais recentes, conservadas em bibliotecas, como os mimos de Herondas e o romance de Cáriton de Afrodísias, Quéreas e Calírroe. O que eu penso que esses acontecimentos têm de mais importante é alertar-nos, não nos deixar esquecer o quanto a tecnologia da escrita é importante em sua materialidade. As tabuinhas de argila da Mesopotâmia revelaram-se mais duráveis, mais resistentes que o papiro e pergaminho em que gregos e romanos escreviam, de tal modo que não temos nada anterior ao século IV a. C., de que data o papiro de Derveni. Já com relação aos sumérios, temos acesso a textos escritos no início do terceiro milênio. Essa é uma reflexão sobre o passado, mas que nos projeta para o futuro: quais as condições para a conservação do que se produz hoje por escrito? Falando de escrita esquecemos em geral que ela não é algo que paira no ar, mas exige um suporte, no nosso caso de hoje o suporte digital, que esperamos seja resistente.
Você pode contar um pouco sobre as especificidades deste desafio tradutório?
Traduzir qualquer texto não é só uma questão de conhecer a língua em que ele se encontra escrito, embora esse seja o ponto de partida indispensável, é claro! Mas um texto traz uma cultura e, no caso de Ele que o abismo viu, uma cultura distante de nós em dois sentidos: em primeiro lugar, por ser um poema oriental, ou seja, desse espaço do globo que nós, ocidentais, costumamos considerar como o lugar da diferença e da barbárie; por outro lado, trata-se de um poema antigo, mais de meio milênio anterior a tudo de mais antigo que recebemos dos gregos e dos hebreus, os quais costumamos considerar o início de nossa cultura “ocidental e cristã”, então, também distante de nós, na medida em que temos a tendência de pensar que tudo que é antigo é primitivo e ultrapassado. Podemos dizer que o impacto que o poema tem no leitor contemporâneo decorre de ele balançar as certezas que nos são transmitidas pelo senso comum sobre nosso espaço e tempo e que são constitutivas da nossa visão de mundo.
Sendo um texto assim, meu primeiro cuidado foi não domesticar o poema. Ele se oferece ao leitor, na tradução, sem facilitações. Isso inclui deixá-lo fragmentado onde é fragmentado, por exemplo. É bom lembrar que, mesmo na Antiguidade, os escribas que o transmitiam lidavam com passagens em que o texto se encontrava quebrado – literalmente com partes em que as tabuinhas de argila estavam quebradas. Tanto que o copista, nestes casos, anotava: “ texto quebrado” ou “quebrado de novo”. Nós usamos essas palavras, escritas em cuneiforme (“heppi” e “heppi eshshu”) para marcar, na tradução, onde há grandes lacunas. Lidar com esses problemas é parte do acesso que temos à literatura antiga, ou seja, os próprios limites do nosso acesso, em vista da preservação das fontes. É, por exemplo, algo equivalente ao que temos da Vênus de Milo: faltar os braços faz parte dela hoje em dia e querer acrescentar os braços ao que temos ficaria extremamente artificial. Com os textos acontece a mesma coisa.
Outro cuidado que eu tive foi não trazer para o texto ideias alienígenas. Vou dar um exemplo: uma expressão temporal que aparece mais de uma vez é “ana dur dar”, em que “duru” significa “para sempre” e “daru” tem o sentido de “eternidade”. Então, a expressão teria o sentido literal de algo como “pela eternidade de para sempre”, e Gilgámesh se pergunta mais de uma vez, diante da morte de seu amigo Enkídu: “E eu, como ele, não deitarei/ E não mais levantarei ana dur dar?” Em inglês, George traduz por “for all eternity”, o que é correto quanto ao sentido, mas perde a aliteração que existe em “ana dur dar”. Joaquín Sanmartín, que tem uma tradução muito boa para o espanhol, traduziu como “pelos séculos dos séculos”, que expressa o que há de iterativo em “ana dur dar”, mas traz para o texto um contexto estranho, pois para quem ouve “pelos séculos dos séculos” só falta acrescentar “amém”! Eu optei por uma solução simples e neutra: “de era em era”. Então, o verso ficou assim: “E não mais levantarei de era em era?” Isso mantém a iteração e aliteração, não traz contextos estranhos para o texto e condiz mais com a marcação temporal praticada pelos mesopotâmios, que não contavam séculos, mas tinham uma consciência muito forte de que o tempo se organizava em eras, a principal dessas marcações sendo a era antediluviana e a era pós-diluviana.
Você usou a metáfora da Vênus de Milo para os fragmentos textuais, recentemente utilizada por Giuliana Ragusa em Lira grega [Hedra] e por mim mesmo em Safo: fragmentos completos [Editora 34]. Gostaria de fazer duas perguntas mais específicas: você não acha que vivemos, como herdeiros do modernismo, uma estética do fragmento que nos permite olhar/ler as ruínas do passado em sua beleza de ruína, numa especificidade histórica? E será que poderíamos pensar em estéticas do fragmento? Digo isso porque creio que eu, você e Ragusa editamos e traduzimos a fragmentariedade de modo diverso, projetamos o fragmento como leitura de modo muito diferente.
Da minha parte, costumo dizer que tenho vocação para arqueólogo, porque gosto justamente de fragmentos, aquela beleza das ruínas que dão o tom dos sítios arqueológicos. Isso constitui, sim, uma estética específica, nem sempre inteiramente compreensível ou acessível. Ouvi uma vez de uma pessoa que havia feito uma viagem à Grécia o comentário jocoso de que nunca tinha visto um povo tão desmazelado, já que não tinha sobrado, da Antiguidade, nada inteiro. Já eu gosto da ruína pelo que ela tem de temporalidade, quer dizer, pelas marcas do tempo que ela carrega e testemunha.
No caso dos fragmentos literários, acho que esse também, num certo sentido, é o charme. No fragmento conservado em argila ou papiro, as marcas do tempo testemunham os acidentes materiais, versos pela metade, palavras soltas etc. Já os fragmentos conservados em citações, que costumam ser a maioria para os autores gregos e latinos, os chamados filósofos pré-socráticos, por exemplo, acrescenta-se à questão tudo que cerca a citação, a estética da citação, que se perde quando se tira o fragmento do contexto em que é citado. Ficam então duas opções: apresentar e interpretar o fragmento tendo em vista o contexto donde foi colhido, ou abstrair do contexto, apresentando-o e interpretando-o em conexão da coleção dos outros fragmentos do autor. São duas opções válidas e justificáveis, que produzem efeitos bastante diferentes, sem dúvida.
O que torna diferente o caso mesopotâmico da Antiguidade grega e latina diz respeito, como já salientei, ao suporte. O fato de que o texto se inscreva em material mais resistente que papiro e pergaminho um acesso menos mediatizado a seus diferentes estados, o fragmentário que ele apresenta tendo essa dimensão brutamente material. O fato de que o escriba assírio anote que o texto de que copia já está quebrado deve servir para lembrar-nos que o escriba grego ou latino deveria enfrentar muitas vezes também todo tipo de quebra, os estados dos textos que nos transmitem ficando devedores dessas vicissitudes.
Como você imagina o impacto de uma tradução de Ele que o abismo viu para a poesia e a narratividade no presente, no Brasil?
É difícil imaginar isso, a publicação sendo tão recente. Eu tive sempre a perspectiva de que este meu trabalho fosse minha principal contribuição para a cultura brasileira, ou seja, não imaginei que o estivesse fazendo na estratosfera, mas aqui e agora e para aqui e agora. Por isso, não se tratou simplesmente de traduzir com fidelidade o texto, mas de compreender e usar os princípios que conhecemos da poesia acádia: as unidades de ritmo, o agrupamento dos versos, os recursos paralelísticos, dentre outros. Por outro lado, resisti à tentação da transcriação, optando por uma tradução que eu concebo, se é preciso dar um nome, como mimética. Meu critério é o texto e, mesmo sabendo que ao traduzir algo sempre se perde dos efeitos, eu quis ficar perto do texto.
Vou dar um exemplo que ilustra isso, que tem relação com transpor para o português parte do efeito do verso acádio. Há um marcador temporal, que aparece em vários pontos do poema, sobretudo na narrativa do dilúvio, que em acádio é “mimmû sheri ina namari”, a referência sendo aos primeiros sinais do raiar do dia. As várias traduções disponíveis vertem o verso por “al primer brillo del alba” (Joaquín Sanmartín), “at the very first light of dawn” (Andrew George), “ao primeiro raiar da aurora” (Ordep Serra) etc. Ora, se o sentido sendo claro, a expressão idiomática é sofisticada e altamente poética: “mimmû” significa “tudo”, “algo”, “nada” e a expressão “mimmû sheri” deve ser entendida como “nada da manhã” ou então como “algo da manhã”, para marcar o primeiríssimo momento da aurora (“sheru” significa “manhã”, “aurora”); o verbo “namaru” tem o sentido de “brilhar”, “amanhecer”, e a expressão “ina namari”, enquanto uma construção impessoal, significa “ao amanhecer”. Fica claro que o verso tem duas unidades rítmicas, ou seja, “mimmû sheri / ina namari”, tendo eu procurado transpor na minha tradução dois aspectos: do ponto de vista lexical e semântico, valorizar as conotações da expressão original; em termos sintáticos, não fazer dela uma construção simples, mantendo seu ritmo: “nem bem manhã, / já alvorece”. Essa preocupação geral com a forma, que, afinal, é o que faz o texto ser poético, mantive em toda a tradução. Saber se minha intenção se realizou de fato caberá aos leitores.
Voltando ao que você me pergunta, considero que as traduções fazem também parte do patrimônio literário de uma língua, no nosso caso o português do Brasil, ou seja, nosso aqui e agora. Espero que minha tradução possa cumprir esse papel, incluindo-se numa tradição poética tão rica quanto a nossa.
Parece mesmo que está cumprindo seu papel, pois ouvi dizer que a primeira tiragem já se esgotou em pouquíssimo tempo. Isso parece indicar que, ao contrário do que tanto se prega em diversos círculos acadêmicos e editoriais, há realmente um grupo significativo de pessoas interessadas pela leitura da antiguidade, seja ela ocidental ou oriental. Você não pensa que esse sucesso imediato pode, para além da própria divulgação da obra e da cultura acádia, também ser um marco para revermos a posição da Antiguidade como um ponto de vitalidade e alteridade fundamentais para o pensamento contemporâneo?
A circulação que o livro está tendo acho que surpreendeu todo mundo, a começar pela editora. Hoje recebi a notícia, da parte deles, os editores, de que o livro já foi convertido para e-book e estará disponível, nesse formato, nas próximas semanas [a obra já está disponível em formato digital no site da editora]. E por aí vai.
Sim, é claro que há hoje um interesse maior pela Antiguidade que há 30 anos atrás, pelo menos em termos do número de pessoas interessadas. Isso tem relação, eu penso, com a ampliação do acesso à cultura. Sempre pensei que a gente desgosta do que desconhece e que conhecimento só pode produzir gosto, já que o mundo é algo de muito atrativo. Assim, garantir acesso ao conhecimento ou à cultura é uma questão básica, de educação e políticas públicas, o que não acontece infelizmente no Brasil, em que a disparidade com relação a isso, condições de poder usufruir de produção cultural, é tão ou mais escandalosa que a econômica.
Eu sempre comentei com meus alunos que estudar a Antiguidade é basicamente esse entrar em contato com o outro, cuja consequência deve ser a perda da mesmice do que nos é próprio. Nós costumamos pensar a alteridade em termos espaciais, os outros sendo os diferentes de nós, mas que se encontram, como nós, aqui e agora, esquecendo-nos de que os antigos, incluindo os nossos antigos, também são outros com relação a nós. No caso dos nossos antigos a relação fica mais complicada, pois temos muito deles, nossa visão de mundo se expande até eles, ao mesmo tempo que eles guardam, diante de nós, inúmeras diferenças. Gosto de pensar que, menos que eles serem nosso passado, o sentido deles está em que nós somos o seu futuro.
Você pode nos contar um pouco sobre os seus projetos atuais?
Eu gostaria de traduzir outros textos acádios, pois constituem um corpus muito extenso e com peças tão impressionantes quanto Ele que o abismo viu. Tenho pronta uma tradução do poema chamado modernamente Descida de Ishtar ao mundo dos mortos, um texto breve, com menos de 200 versos, para o qual tenho de agora escrever os comentários. Como no caso do Gilgámesh, acho que traduções comentadas são muito úteis para o leitor, pois podemos fazer as opções que parecem as melhores na tradução, informando sobre outras possibilidades. Comentário não é nota de pé-de-página, mas a consideração do texto como poesia e sua exploração nesse sentido. Por isso é que, no caso de Ele que o abismo viu, para cada página do poema há cerca de duas de comentários.
Outra coisa que pretendo explorar são as relações entre as tradições médio-orientais e as gregas, algo sobre o que muito se escreveu no século XX, traçando-se paralelos. Queria avançar além dos simples paralelos, pensando isso da perspectiva do compartilhamento dos “lugares comuns” que fazem do Mediterrâneo oriental uma zona de convergência cultural. Isso quer dizer que não penso a questão em termos da influência do Oriente Médio na Grécia, mas do compartilhamento de lugares comuns, entendendo que o lugar comum é aquilo que permite a comunicação e a existência de comunidades culturais. Estou atualmente explorando isso com relação às ideias sobre os mortos e seu mundo. É um projeto que demanda tempo, pois exige lidar com um número grande de dados, organizá-los e interpretá-los. Mas é algo fascinante. No caso dos mortos, seguir como se cria a concepção de que a existência humana não termina na morte, mas supõe dois estados, o de vivo, com princípio e fim, e o de morto, com princípio mas sem fim. Como esse é o nosso lugar comum, não temos consciência de que foi criado num certo momento, por uma certa cultura, não sendo essa ideia própria de todas as culturas (há as que consideram que a existência humana termina com a morte e as que pensam que ela se repete em ciclos de nascimento-morte-nascimento, por exemplo). Mas a concepção de uma existência com dois estados, como descrevi, já está nos textos sumérios, registrando-se nos acádios e em outros médio-orientais (com exceção dos hebreus, que não descrevem algum tipo de existência após a morte, pelo menos nos registros mais antigos), como está também em Homero.
Acontece que os sumérios são um povo que já se sobrepõe a pelo menos outro povo que falava uma língua diferente, convencionalmente chamada de prototigrídio. Então, quando regredimos no tempo, topamos sempre com povos que já são mestiços, sendo de um deles, dos sumérios, que temos o registro mais antigo dessa concepção sobre a morte e os mortos. Isso é o que há de fascinante nessa espécie de arqueologia do imaginário. Constatar como as culturas se relacionam, como ocorrem as miscigenações de todo tipo, criando-se os lugares comuns que ainda hoje compartilhamos.
O livro na Amazon, nesta data, está com desconto: https://www.amazon.com.br/

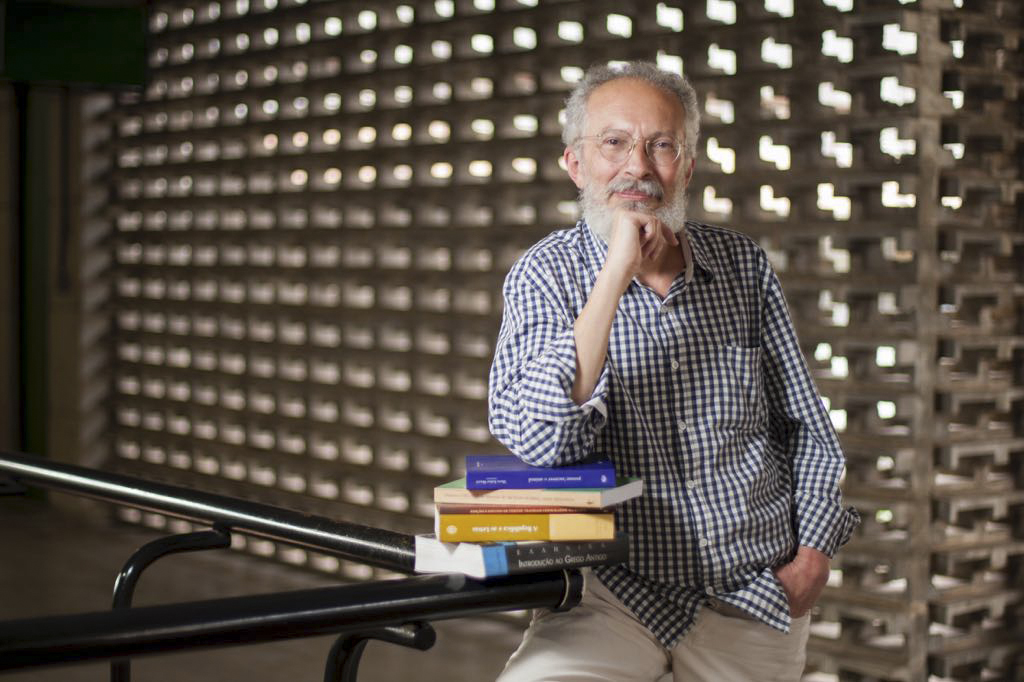





 Doutora e mestra em Ciências da Religião, e graduada em Licenciatura em História (aluna laureada), todos pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. É integrante do grupo de pesquisa interuniversitário "Espiritualidades Contemporâneas, Pluralidade religiosa e Diálogo", da UNICAP. Trabalha com o tema História das Religiões, sobretudo com Religiões Neopagãs, na linha de pesquisa Pagan Studies; Com a História da Bruxaria, e das Práticas Mágicas; E com o diálogo inter-religioso. Atua nas áreas de História, Sociologia, Filosofia e Antropologia, desenvolvendo abordagens interdisciplinares. Veja mais em: cliografia.com/meus-trabalhos/cliografia-e-karina/
Doutora e mestra em Ciências da Religião, e graduada em Licenciatura em História (aluna laureada), todos pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. É integrante do grupo de pesquisa interuniversitário "Espiritualidades Contemporâneas, Pluralidade religiosa e Diálogo", da UNICAP. Trabalha com o tema História das Religiões, sobretudo com Religiões Neopagãs, na linha de pesquisa Pagan Studies; Com a História da Bruxaria, e das Práticas Mágicas; E com o diálogo inter-religioso. Atua nas áreas de História, Sociologia, Filosofia e Antropologia, desenvolvendo abordagens interdisciplinares. Veja mais em: cliografia.com/meus-trabalhos/cliografia-e-karina/  orcid.org/0000-0003-3068-985X
orcid.org/0000-0003-3068-985X

